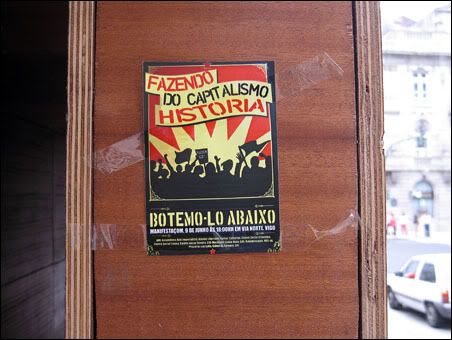
Ontem choquei as minhas amigas quando a meio do serão, já as nossas crianças estavam deitadas, disse com frieza:
- O amor é uma ideia e é uma ideia que em último grau serve um trabalho de dominação política.
A Ireneia perguntou-me logo de que geração eu era. Foi uma forma delicada de me dizer, isso já foi no século passado, entendes? A Dulce, menos diplomática, estava cansada, tinha vindo de Londres nessa madrugada, estava a fazer vinte e quatro horas sem dormir, foi categórica:
- Tens consciência da palermice que acabaste de dizer, não?
Não voltaria mais ao tema não fosse o Luís ter escrito este post. Aí eu percebi que há que avançar.
A ideia do amor é um assunto demasiado sério para ficar apenas entregue aos amantes. Não que eles não o soubessem explicar. Eles são o próprio amor em explicação. Só que nada de pior podemos fazer ao amor do que tornar os amantes propagandistas do amor. Até porque sejamos honestos: os verdadeiros propagandistas da ideia do amor vivem em cavernas forradas a napalm e a papel verde, nas basílicas, nos claustros, nas praças vermelhas deste mundo, nunca amaram, nunca amarão, nem percebem aliás que o amor possa servir para outra coisa que não seja fazer progredir os seus negócios. São pessoas tristes, descoloridas, como aqueles ciprestes queimados pela geada, pelo frio, pela nortada. Falta-lhes sul, o sul em tempero, em cor, em maldição. Os amantes não precisam da ideia do amor, basta-lhes amar. O amor em acção. Em advérbio. Tudo o resto é cultura feita política, ideologia, e comércio. Mudam-se os meridianos, os paralelos, e mudam o cheiro dos amantes. As cópulas. As palavras. Os beijos. Mudam-se as mãos recostadas sobre as ancas. As penetrações. As próprias zonas erógenas. As imagens do amor. O cinema tem aliás feito um trabalho notável - remarcável para os comerciantes, para os políticos, para a religião, bem entendido - para unificar a linguística e a semiótica amorosa. Uma só linguagem, uma só hermenêutica. A bem do negócio. E não há domínio, não há actividade humana mais varrida pelo instante cinematográfico do que o amor. Casablanca. Em Rosa Púrpura do Cairo, inusitadamente, a protagonista entra pelo cinema adentro. É um momento raro, cinematograficamente. Geralmente é o cinema, de uma forma subreptícia, a entrar pelas nossas vidas adentro. É um vaivém inimaginável, quer dizer, sem imagens, entre o espectador e o filme. Só que o filme não existe indistintamente da produção ideológica que o constituiu. Muitos dos que lutam contra um determinado tipo de hegemonia na representação do mundo sabem contra aquilo que lutam: contra a perda desse peso que o meridiano pode fazer no modo como amamos, gingamos, bamboleamos, acariciamos.
Há um peso enorme da longitude e da latitude no trabalhar do amor.
Lembro-me que uma vez fui amado por uma mulher oriental. Eu estava numa terra distante, tudo me parecia demasiado longe. Ela veio com todos aqueles estereotipos que eu poderia ter sobre as mulheres orientais - ou não fosse ela um sonho - e deus sabe que, desde Pearl S. Buck ou Somerset Maughan, a minha maior fantasia era ser devorado amorosamente por uma mulher cultivada sobre o prumo do Sol Nascente. Trazia óleos, sorrisos suaves, mãos de cetim. Quando ela me começou a tocar eu começei a chorar convulsivamente, como uma criança. Eu já tinha vivido bem mais de dois terços da minha vida e imaginei que poderia ter morrido sem ter sido longamente devorado pelo amor daquela mulher. Quando quis contar aos meus amigos é que percebi a raridade do que tinha vivido. Eles perguntavam-me pelos objectos, pelos gestos amorosos: como é que elas faziam ou desfaziam o sexo, a sua flôr, como é que o enfeitavam com os seus próprios objectos e pertences, como é que cheiravam. E eu não conseguia explicar-lhes o furacão que me tinha varrido. Eu antes dava muita importância ao sexo, à sua prontidão, à sua rigidez, ao simbólico rasgar de uma fêmea que a penetração do macho contém. Eu por exemplo não sabia que se podia foder com os olhos. E principalmente que essa cópula de um olhar poderia ser com eles abertos para dentro, pálpebras encostadas, corridas, fechadas para o fora do sujeito que eu sou quando amo. A educação dos rapazes nunca me ensinou isso e também, as mulheres ocidentais, seres infinitivamente belos e sábios, não me puderam nunca ensinar que eu, como homem, poderia ter um orgasmo tão secreto e doce como o feminino. Ainda me lembro dessa noite, da voz a crescer-me nas entranhas, o tropor a cavalgar-me por dentro, aquele desejo a arrebatar-me até uma espiral que me sugava.
Não estou apenas a falar da execução carnal dos amantes. Quando digo que o meu amor oriental foi o meu mestre, digo que ele me levou para o momento em que a minha identidade se tornou a de ser-em-procura-de-estado-de-dádiva. Aliás, aquilo que o meu amor oriental verdadeiramente me ensinou foi a duvidar do amor de que vos falo.
2 comentários:
*suspiro*
poderoso!
Fascinante! O amor como momento de exercício de um poder, do poder de uma cultura e um belíssimo encontro de dois seres que se deixam permear pelo reverso das convicções mais comuns. Um homem que (se) frui, espantado, enquanto forma quase pura de energia Yin.
Uma verdadeira revolução íntima, presumo.
Enviar um comentário